“O Brasil é uma invenção. Ele nasce exatamente da invasão. Inicialmente pelos portugueses, depois continuada pelos holandeses, e depois continuada pelos franceses, um modo sem parar, porque as invasões nunca tiveram fim. Nós estamos sendo invadidos agora. Tinha gente aqui, com história de civilizações com mais de 2 mil anos. Os Guarani, hoje se atestam que têm 4 mil anos de compreensão de si como povos, que se relacionavam com os povos andinos e que reivindicavam diante dos andinos uma territorialidade e respeito pelos povos andinos” (KRENAK, 2019a).
O território entendido enquanto Brasil é terra que já foi habitada, de acordo com a Fundação Nacional do Índio, por mais de cinco milhões de pessoas de centenas de etnias com suas distintas formas de organização, línguas e linguagens. Hoje é terra habitada por 190.755.799 habitantes, de acordo com o Censo Demográfico de 2010, sendo destes 817.963 mil indígenas de 305 etnias.
Terras que, depois da invasão europeia do século XV, foram lugar de extermínio e regime escravocrata com indígenas e com povos sequestrados da África, tratados como mercadoria e força de trabalho na construção da civilização colonial. Através de guerras e lutas a extensão territorial de 8.514.876 km² foi nomeada Brasil, a independência de Portugal foi declarada em 7 de setembro de 1822, sendo assim um estado-nação, enquanto a “abolição” da escravatura foi em 1888.
O professor e intelectual Daniel da nação Munduruku (2012) afirma que no início da invasão houve frustração europeia pela não descoberta momentânea do ouro. Uma decepção aos interesses econômicos do comércio europeu, pois os espanhóis já haviam encontrado ouro em outros cantos da América. Assim, optaram pela exploração da única “matéria-prima” que parecia ser interessante naquele momento, a árvore com tinta vermelha chamada hoje de Paubrasilia echinata, o pau-brasil.
A política de expropriação é concebida por Portugal com o entendimento de que os nativos eram desprovidos de qualquer conhecimento, crença e estrutura organizacional. Os invasores identificavam autorização divina para medidas escravistas e exterminacionistas contra os nativos:
A presença religiosa era, portanto, uma condição sine qua non para que o projeto português em terras brasileiras se realizasse. Isso, no entanto, será uma realidade apenas em meados de 1549, quando Portugal assume de vez que é preciso “invadir” o Brasil de forma mais organizada. Para cá são mandados os primeiros colonizadores, de fato, acompanhados pelos primeiros jesuítas, para destruir a alma da nossa gente (MUNDURUKU, 2012, p. 25).
Esse processo marca o início da expropriação oficial do conhecimento ancestral, a exploração do trabalho e o genocídio dos povos que aqui habitavam. Havia um entendimento cristão de que os povos originários da terra invadida não tinham alma, assim qualquer violência e massacre cometido seriam perdoados por deus através da igreja. É a isso que Munduruku (2012) dá o nome de paradigma exterminacionista, que começa com as “guerras justas”, com enormes massacres.
O MODELO CIVILIZATÓRIO ESTATAL
O modelo organizacional da noção de civilização vinda da Europa era a centralização de poder, conflitante com o entendimento organizacional de muitas civilizações que nessa terra viviam. Gersem, intelectual do povo Baniwa, nos atenta que:
Uma característica importante da organização tradicional é a ausência de poder autoritário. Os chefes indígenas recebem tarefas, responsabilidades e serviços, mas não têm nenhum poder soberano sobre o grupo. Por isso, o antropólogo francês Pierre Clastres diz que são sociedades que não dão poder absoluto a ninguém e, por conseguinte, são sociedades sem Estado ou contra o Estado, no sentido de que o Estado é a expressão concreta da concessão de poder soberano a alguém. (…) Nos povos indígenas os chefes são mais servidores dos povos do que chefes, uma vez que são responsáveis pelas funções de organizar, articular, representar e comandar a coletividade, mas sem nenhum poder de decisão, o qual cabe exclusivamente à totalidade dos indivíduos e dos grupos que constituem o povo (BANIWA, 2006, p. 63-64).
Sobre o papel do Estado na relação com povos originários, o intelectual Ailton do povo Krenak diz:
Não sei se todos conhecem as terminologias referentes à relação dos povos indígenas com os lugares onde vivem ou as atribuições que o Estado brasileiro tem dado a esses territórios ao longo da nossa história. Desde os tempos coloniais, a questão do que fazer com a parte da população que sobreviveu aos trágicos primeiros encontros entre os dominadores europeus e os povos que viviam onde hoje chamamos, de maneira muito reduzida, de terras indígenas, levou uma relação muito equivocada entre o Estado e essas comunidades (…) É claro que durante esses anos nós deixamos de ser colônia para construir o Estado brasileiro e entramos no século XXI, quando a maior parte das previsões apostava que as populações indígenas não sobreviveriam à ocupação do território, pelo menos não mantendo formas próprias de organização, capazes de gerir suas vidas. Isso porque a máquina estatal atua para desfazer as formas de organização das nossas sociedades, buscando uma integração entre essas populações e o conjunto da sociedade brasileira (KRENAK, 2019, p. 39).
EXTERMINAR PODE SER: INTEGRAR
Com o passar dos anos, o fortalecimento do positivismo contribuiu em outro paradigma na relação com os originários. O paradigma integracionista tem como suporte teórico a ciência moderna que, com o evolucionismo, “acreditava ser natural a passagem entre o estado primitivo e a civilização” (MUNDURUKU, 2012, p. 31). Um entendimento de que a “civilização inferior” passaria por mudanças naturais que poderiam ser induzidas na colonização para tornar aqueles povos mais rapidamente “civilizados”.
A Lei do Diretório dos Índios, publicada em 1757 pelo rei de Portugal, através de seu ministro Marquês de Pombal, trouxe o aldeamento de comunidades com uma rígida escolarização e a proibição da fala do idioma nativo, obrigatoriedade da fala em português com pena de morte para quem ousasse falar outro idioma, além de precisarem ser batizados com nome e sobrenome em português para serem entendidos enquanto humanos. A ideia era incorporar os originários à sociedade dos brancos, promover a mestiçagem e transformá-los em trabalhadores ativos a fim de assegurar o povoamento para defesa do território colonial.
Brighenti (2013) escreve que as Constituições brasileiras de 1934, 1946, 1967 e 1969 tiveram um regime jurídico de tutela para os povos nativos. Esse regime entendia a população originária como incapaz na dimensão política e o Estado brasileiro controlava e impedia manifestações livres desses povos. A leitura era de que a “condição” de indígena era “transitória” e a estratégia foi a criação de reservas com escola, igreja cristã e o trabalho agrícola. Processo para “humanização” e patamar de “civilização” na lógica colonial.
O Estado Novo de Vargas (1937-1945) viveu a campanha de nacionalização, que marcou a proibição de outras línguas. Assim como na Lei do Diretório dos Índios que foi derrubada em 1798, Vargas teve como um de seus objetivos incorporar indígenas à sociedade brasileira para exterminar etnias que viviam nas diferenças da lógica urbana industrial.
Em 1963, durante presidência de João Goulart, acontece o massacre conhecido como Paralelo 11 no Mato Grosso, em que grandes latifundiários, querendo território indígena para extração de látex, organizaram uma série de assassinatos à etnia Cinta-larga utilizando aviões para jogar dinamites na aldeia e atirando com metralhadoras na população. Além disso, no mesmo período o chefe do Serviço de Proteção ao Índio (SPI), órgão anterior à Funai criado em 1910 a partir da legislação tutelar, instruiu funcionários do órgão a oferecer comida contaminada com arsênio e presentes contaminados por inoculação de doenças para as crianças, o que matou cerca de 3.500 pessoas na comunidade, como consta no Relatório Figueiredo de 1967.
Na ditadura militar, a bandeira nacionalista promoveu práticas de violência profunda à população indígena. A obsessão dos militares pela unidade cultural e territorial da nação fez do regime um inimigo natural das culturas, saberes e línguas indígenas, assim como das terras indígenas – lógica que segue vigente nos generais das Forças Armadas atualmente. Rubens Valente (2017), em sua investigação jornalística, trouxe à tona as matanças nos territórios, um cenário de genocídio aos povos subordinado ao desenvolvimento econômico. Valente (2017) questiona o relatório final da Comissão da Verdade, instituída pela presidente Dilma Rousseff no ano de 2011, pois em seu capítulo sobre a questão indígena não consta a narrativa da população indígena e povoados próximos, o que possibilitou a omissão de muitos acontecimentos violentos.
Valente rodou estados do Brasil por dez anos e fez entrevistas com mais de oitenta pessoas, inclndo indígenas, missionários, indigenistas e sertanistas. Nesta investigação, constatou a morte de centenas de indígenas nas construções da rodovia BR 174 (Manaus-Boa Vista) e da Transamazônica BR-230. Os Waimiri-Atraori foram quase dizimados nesse período; houve centenas de mortes de Parakanã, Araweté e quase metade da população Yanomami. Além disso, territórios retirados das populações na construção de hidrelétricas e na expansão do agronegócio. As estimativas apontam mais de 8 mil indígenas mortos pela ditadura civil-militar.
O período que chamam de “fim da tutela estatal” foi previsto apenas na Constituição de 1988, o que trouxe a possibilidade de alguma autonomia e humanidade prevista pelo Estado, colocando direitos a indígenas e políticas públicas que exigem atendimento específico e diferenciado.
O DIREITO À TERRA
No capítulo dedicado aos povos indígenas, é possível identificar a nova orientação que daria base a uma política indigenista não mais baseada em visões europeias, mas defensora do multiculturalismo e do pluralismo jurídico, ao reconhecer a organização social, costumes, línguas, crenças e tradições como direitos subjetivos dos povos indígenas. Além disso, garante os direitos originários às suas terras tradicionais, baseados no instituto do indigenato (MUNDURUKU, p. 37, 2012).
A Constituição indica que o processo de demarcação de terras deve durar cerca de 3 anos, porém esses processos permanecem por décadas em esferas administrativas (BRIGHENTI, 2013). Esses processos demarcatórios têm diversas etapas burocráticas com entraves e retrocessos no decorrer dos governos.
A FUNAI é quem demarca a terra indígena, como consta no artigo n° 231 da Constituição Federal de 1988. Mas o Decreto 1775 de 1996 é que prevê os passos do processo de homologação. De acordo com o decreto, o primeiro passo é a identificação e delimitação: uma portaria e um grupo técnico coordenado por um antropólogo que faz o estudo da história da comunidade e o ambiente onde vivem. O segundo passo é a publicação: o grupo técnico faz o relatório e envia a FUNAI; depois da revisão o relatório é publicado com resumo no Diário Oficial da União em Brasília, no Diário Oficial do Estado e é colocado cópia na sede da prefeitura do município em que a terra se localiza. O terceiro passo é o contraditório: todas as pessoas, empresas, prefeituras, estados podem colocar a concordância ou discordância com a demarcação e pedir indenizações. O quarto passo é a análise de contestações e o parecer da FUNAI para o Ministro da Justiça. O quinto passo é a portaria declaratória. O sexto passo é a demarcação física: quando o Ministro da Justiça assina a portaria, a FUNAI deve contratar uma empresa para fazer a demarcação com os marcos na divisa e as placas de sinalização. Além disso, se houver não-indígenas moradores, a FUNAI inicia o pagamento das benfeitorias e o INCRA reassenta as pessoas em outras terras. Depois disso, o processo é encaminhado ao Presidente da República que assina o documento reconhecendo e fazendo a homologação. A última etapa é o registro no cartório de imóveis e na comarca onde se localiza a terra indígena e na Secretaria do Patrimônio da União.
A luta pela terra é a luta por um pequeno espaço dentro do amplo território onde as comunidades circulavam. Uma árdua luta porque, sem o pedaço de terra concebido às etnias, a existência das comunidades em suas lógicas culturais fica muito prejudicada, podendo se extinguir. Assim, a luta pela terra é, atualmente, a maior das lutas dos povos originários no Brasil; a demarcação das terras, embora não faça parte da cosmovisão dos povos, é o caminho aberto para essa disputa no atual cenário.
Hoje existem 1296 terras indígenas no Brasil, de acordo com os dados do Conselho Indigenista Missionário (Cimi) de 2016, mas 40,86% delas estão sem providências do Estado, com apenas 1,23% das terras efetivamente homologadas. Na plataforma online do Cimi, podemos nos atentar às homologações concedidas por cada governo presidencial, como consta na tabela abaixo.
Tabela 1: Situação de terras indígenas no Brasil por gestão presidencial.
Fonte: https://cimi.org.br/terras-indigenas/. Acesso em 18 de maio de 2019. A tabela não foi atualizada para 2017 em diante, mas Temer homologou apenas uma Terra Indígena e Bolsonaro não homologou nenhuma até a publicação deste texto.
INDÍGENAS EM SANTA CATARINA
Antes de qualquer europeu aportar sobre essas passagens e impor qualquer limite já haviam populações humanas que as habitavam, das quais descendem os atuais povos indígenas que aqui vivem. Os Guarani, Kaingang e Xokleng2 definiram seus territórios a partir de outros limites, que em nada lembra a geografia catarinense contemporânea. Essas definições têm como referência a relação que cada povo estabeleceu com o meio e a inter-relação entre eles (BRIGHENTI, 2013, p. 1).
No sul do país existiam os “bugreiros”, pessoas pagas pelo Estado para realizar expedições de matança a comunidades indígenas. Os jornais locais noticiavam esses ataques como uma questão civilizatória, relatando as atrocidades cometidas para a execução dos “selvagens”. Era comum o sequestro de crianças indígenas para adoção em famílias não indígenas (Seyferth, 2005) e também das mulheres, integradas à força na linhagem de muitas famílias em nosso estado, origem de expressões comuns, como falar que a avó foi “pega no laço”.
O projeto de branqueamento no contexto brasileiro teve uma especificidade na região Sul, onde houve a imigração em massa da população europeia pós-abolição da escravatura.
A colonização europeia partindo do princípio do embranquecimento da população incorpora as tais etnias e atribui à região sul um status de área bem desenvolvida comparada a outras regiões do Brasil “não branca”. E com estes discursos e práticas, exclui e invisibiliza a população negra, indígena, proporcionando “aos novos agregados” (europeus e seus descendentes) uma condição de superioridade, retomando as teorias raciais do século XIX. Assim, a tentativa de proporcionar ao sul um perfil “branco” foi satisfatória, pois segundo Leite (2008, p. 967),“[…] Essa espécie de topografia étnica traduziu-se na continuidade das estratégias de expropriação das terras e na forma como esse projeto se tornou hegemônico e se reproduziu com sucesso até os dias atuais (CRISPIM, 2017, p. 21).
O professor de História das sociedades indígenas e da América Latina na UNILA, Clovis Antônio Brighenti (2013), descreve a existência de 29 terras indígenas em Santa Catarina, sendo apenas uma efetivamente homologada, enquanto a maioria está em processo de homologação há mais de 20 anos e algumas não receberam nenhuma providência do Estado. São 6 terras do povo Kaingang, 2 do povo Xokleng e 22 do povo Guarani. O número de pessoas indígenas no estado é cerca de 16.041, com 10.369 vivendo em aldeias, de acordo com os números de pesquisa do censo do IBGE de 2010.
CAPITALISMO E A VIDA INDÍGENA
Esse pacote chamado humanidade vai se descolando de maneira absoluta desse organismo que é a Terra, vivendo numa abstração civilizatória que suprime a diversidade, nega a pluralidade das formas de vida, de existência e de hábitos. Os únicos núcleos que ainda consideram que precisam viver agarrados nessa Terra são aqueles que ficam meio esquecidos pelas bordas do planeta, nas margens dos rios, nas beiras dos oceanos, na África, na Ásia ou na América Latina. Esta é a sub-humanidade: caiçaras, índios, quilombolas, aborígenes (KRENAK, p. 17, 2020).
O capitalismo entra em conflito com qualquer lógica fora do modelo urbano industrial privatista. Um conflito visceral com a coletividade, igualdade, interação potencializadora da diversidade e da biodiversidade. A noção de riqueza e pobreza que vivemos surge pelo modelo econômico, político e cultural capitalista, patriarcal e racista.
Racismo ambiental é um termo criado nos Estados Unidos, mas que serve muito bem para pensar a questão socioambiental brasileira, já que todas as grandes questões de impacto ambiental causado pelo capital afetam de maneira mais direta a vida e a dignidade de pessoas negras e indígenas no país.
Para o modelo de produção capitalista ser possível é necessário uma escala energética muito grande, que no Brasil é produzida majoritariamente através do que a classe dominante chama de “energia limpa”, as hidrelétricas. Essa fonte de energia tem impactos desastrosos, não apenas em centenas de espécies que morrem na construção pelo alagamento e as drásticas mudanças ecológicas, mas também, para as populações originárias e tradicionais.
Um caso atual terrível foram as 20 mil pessoas desalojadas no alto Xingu para a construção da Belo Monte, hidrelétrica imensa que produz energia apenas uma parte do ano, pois as águas do rio se encolhem em outro período. Com a sua construção, dezenas de comunidades entenderam o que é pobreza. Essas comunidades viviam a riqueza sem necessidade de dinheiro. Hoje as comunidades nos arredores do rio Xingu, cheio de alimento e água, vivem sem água. Caminhões pipa abastecem a cidade de Altamira no Pará e essas pessoas precisam pagar pela água que consomem.
As comunidades foram retiradas de seus territórios, deslocadas para extrema pobreza. Um projeto da ditadura militar colocado em prática pelo governo Lula, que teve cinco ações de denúncias de ilegalidades em sua construção nunca julgadas pelo STF. O governo do PT ainda usou a Força Nacional de Segurança Pública para reprimir uma greve dos trabalhadores na construção da usina. A última ação do governo Dilma, antes do golpe, foi a inauguração de Belo Monte em maio de 2016.
Outro gravíssimo problema é a extração de minério que contamina as águas, leva doença, assassinato, desnutrição e muitas mortes para populações originárias. Nas palavras de Davi Kopenawa (2015), a ganância do povo branco, que tem paixão por mercadorias, os torna comedores de terra que levantam a fumaça mortífera do metal. Isso afeta de maneira profunda e devastadora o povo Yanomami. A mineração em terras indígenas, mesmo ilegal, tem avançado durante a pandemia de COVID-19 e isso é reforçado em projetos de lei que estão em tramitação que visam viabilizar a exploração de recursos minerais, hídricos e orgânicos em reservas indígenas.
Além disso, a agricultura que historicamente foi geradora de alimento e saúde, hoje é no Brasil é agronegócio, o negócio da morte. As queimadas, os pastos, a transgenia e o veneno atravessam todos os estados do país e o plantio tradicional tem sido impossibilitado pelas contaminações e empobrecimento dos solos. As comunidades estão sendo queimadas ou então intoxicadas e coagidas a arrendar suas terras1 para grandes produtores em troca de dinheiro para sobrevivência. O solo contaminado cria a necessidade de insumos, de veneno e a compra de sementes. O agronegócio avança as fronteiras, expulsa comunidades, desmata e expande a cada dia em extensas áreas de monocultivo e gado pelo país.
As águas dos rios, o solo e as plantas são contaminadas de veneno com os agrotóxicos, de lama tóxica com o rompimento de barragens. As sementes crioulas selecionadas na ancestralidade do conhecimento de centenas de gerações são contaminadas na transgenia. A Amazônia, maior floresta do mundo, virando cinzas, com fogo criminoso acobertado pelo fascista atual presidente da república.
Muitas comunidades se colocam na resistência com suas lógicas de viver, em uma disputa desigual com o capital que desapropria, contamina e usa diversas formas de violência. O impacto do capitalismo na vida das comunidades indígenas é a perda da possibilidade de existir, de viver suas culturas com saúde e autonomia.
O MOVIMENTO INDÍGENA NO BRASIL
Com a compreensão de processos de violência física, emocional e epistêmica contra os povos nativos, é necessário frisarmos as resistências das nações com suas organizações ao longo de toda história, incluindo o momento presente e a construção do movimento indígena organizado no contexto do Brasil.
Para isso Daniel Munduruku (2012), em seu livro “O caráter educativo do movimento indígena brasileiro (1970-1990)”, nos conta o processo de formação do movimento, com entrevistas profundas com diversas pessoas envolvidas nas lutas pelos direitos como: Ailton Lacerda Krenak, Eliane Lima dos Santos Potiguara, Mariano Marcos Terena, Carlos Estevão Taukane, Darlene Yaminalo Taukane e Manoel Fernandes Moura, e outras referências importantes do movimento indígena do país.
A partir das entrevistas, ele situa o nascimento do movimento articulado nacionalmente na década de 1970, período em que foi construída uma unidade a partir do reconhecimento da identidade indígena3. Esse termo foi apropriado pelas nações por entenderem que a unidade entre as etnias propicia o fortalecimento da resistência e a existência das diversidades, com ações mais coletivas e organizadas para reconhecimento dos povos originários nos territórios:
(…) pessoas tiveram que fazer um caminho oposto ao que era, até então, trilhado por nossas sociedades. Precisavam abrir mão do ser social em suas comunidades de base para se tornarem indivíduos socialmente significativos numa sociedade que privilegia a biografia. Isso significa dizer que elas priorizaram o todo – povos indígenas – ao invés de se contentarem com a parte – suas comunidades, seu papel social individual (MUNDURUKU, 2012, p. 62).
Munduruku explica que valores das sociedades brancas priorizam ideologias individualistas, opostas ao entendimento de sociedade dos povos originários. É por isso que ele nos diz que esse foi um dos desafios enfrentados pelas comunidades e pelos sujeitos indígenas para a construção do movimento, um destaque de indivíduos perante as comunidades. Foi necessário superar um embate de concepção para entender estratégias de conceber personalidades e criar uma utopia dentro da sociedade brasileira. Essa utopia seria a “construção de uma sociedade capaz de absorver – sem querer assimilar – as diferenças representadas pela sociodiversidade indígena (…) que apenas conhecia pelos olhos do colonizador” (p. 63). Além disso, os povos de diferentes etnias “construíram uma consciência coletiva (…), juntos construíram uma memória coletiva” (p. 64).
Outro desafio posto foi a perspectiva racional educativa do entendimento do tempo e do estar no mundo, que é aproximado entre os diferentes povos originários, mas entra em conflito com a perspectiva vinda da Europa e com a lógica do capitalismo: a acumulação e o utilitarismo no tempo.
Grosso modo é possível afirmar que as sociedades indígenas são sociedades do presente. Toda a compreensão do mundo desenvolvida por elas passa pela urgência, pelo aqui e pelo agora. Homens e mulheres indígenas são educados para viverem tão somente o momento atual, e as crianças nunca são empurradas para “ser alguém quando crescerem” porque elas sabem que o futuro é um tempo que não existe. Vivem, assim, cada fase de suas vidas motivadas pela urgência do cotidiano, não aprendendo a poupar ou acumular para o dia seguinte. Seu sistema educativo é todo fundamentado na necessidade de viver hoje, e a cada nova fase da vida (infância, adolescência, maturidade e velhice) revivem fortes momentos rituais que lhes lembram seu grau de pertencimento àquele povo (MUNDURUKU, 2012, p. 67).
Munduruku diz que há um entendimento nítido de que a vida é uma passagem e o viver é o presente. A noção de tempo é embasada no passado memorial, não em uma vazia ideia de futuro. O “futuro” é um tempo que não se materializou, não se tornou presente e, por isso, impensável para a lógica que rege a existência. Sobre isso ele ainda afirma:
Ainda que ignorado, negado ou transformado pelos colonizadores – do corpo e da alma -, o saber que sempre alimentou nossas tradições se manteve fiel aos princípios fundadores. Isso desnorteou os invasores daquele momento histórico e continua desnorteando os de nosso tempo, os quais teimam em destruir nossas tradições originárias que permanecem resistindo, não sem muitas baixas, ao “canto da sereia” do capitalismo selvagem, cujo olhar frio se concentra na fragilidade humana, que é capaz de vender sua dignidade e ancestralidade em troca de conforto e bem estar ilusório. Isso, parentes, é resistir. E esta resistência permanece viva até nossos dias (…) Educação do corpo, da mente e do espírito (MUNDURUKU, 2012, p. 68).
Gersem dos Santos Baniwa (2006) escreveu que o modelo de organização indígena formal – um modelo branco – foi sendo apropriado pelos povos ao longo dos anos. Isso caminha junto da apropriação de instrumentos e novas tecnologias para defesa de direitos, no intuito de fortalecer maneiras de viver e melhorar as condições de vida a que esses povos foram submetidos após a invasão. Porém, ele enfatiza que isso nunca significou a negação da identidade indígena e sim capacidade de resistência, de sobrevivência, com o fim de garantir a continuidade de suas culturas.
Neste processo nasce a União das Nações Indígenas (UNI) em 1979, com a pauta do fim do regime de tutela do Estado. Foi pela UNI que se construiu a luta pelos direitos indígenas na Constituição de 1988, uma constituição que admite o direito de autodeterminação sociocultural, étnica e possibilita a demarcação de terras.
A partir de 1970 ocorreu um fortalecimento dos movimentos indígenas provocado pela realização de assembléias articuladas pelo CIMI e pela ascensão de lideranças indígenas carismáticas com a projeção regional, nacional e internacional, as quais impulsionaram o surgimento das primeiras grandes organizações indígenas regionais e nacionais, sob liderança da União das Nações dos Indígenas – UNI (BANIWA, 2006).
Por conta do avanço em conquistas de políticas públicas específicas aos povos, Baniwa identifica um fenômeno de efervescência étnica, da auto-afirmação da identidade e do fenômeno da etnogênese, conceito antropológico que significa o aparecimento de etnias. Porém, “a lógica burocrática da Administração Pública e da (ir)racionalidade política e ideológica do Estado não consegue tratar os povos indígenas como portadores de culturas particulares”, trazendo constantes conflitos (BANIWA, 2006, p.79).
Em 2004 acontece o primeiro Acampamento Terra Livre (ATL), uma mobilização nacional que busca dar maior visibilidade à situação dos direitos indígenas e fazer as reivindicações específicas de cada povo. São centenas de pessoas de diferentes etnias acampadas em frente da Esplanada de Brasília, com suas pautas, atos, rezas e enfrentamentos à negligência estatal, dando visibilidade para suas pautas e fortalecendo a unidade indígena. Em 2005, a partir da segunda edição do ATL, nasceu a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), que passou a articular as organizações existentes e organizar os ATLs, dando maior visibilidade nacional e internacional às pautas dos povos dessas terras.
Em agosto de 2019, ano em que o avanço neoliberal e conservador se intensifica em todo o mundo, mesmo ano em que um governo conservador e ultraliberal assume o poder no Brasil, acontece a primeira Marcha das Mulheres Indígenas do Brasil, reunindo 2.500 mulheres de cerca de 130 etnias. Essas mulheres construíram um documento final dizendo: “queremos dizer ao mundo que estamos em permanente processo de luta em defesa do território: nosso corpo, nosso espírito. E para que nossas vozes ecoem em todo o mundo, reafirmamos nossas manifestações”. Elas se posicionaram frente ao governo brasileiro:
Somos totalmente contrárias às narrativas, aos propósitos, e aos atos do atual governo, que vem deixando explícita sua intenção de extermínio dos povos indígenas, visando à invasão e exploração genocida dos nossos territórios pelo capital. Essa forma de governar é como arrancar uma árvore da terra, deixando suas raízes expostas até que tudo seque. Nós estamos fincadas na terra, pois é nela que buscamos nossos ancestrais e por ela que alimentamos nossa vida. Por isso, o território para nós não é um bem que pode ser vendido, trocado, explorado. O território é nossa própria vida, nosso corpo, nosso espírito (…) Queremos respeitado o nosso modo diferenciado de ver, de sentir, de ser e de viver o território. Saibam que, para nós, a perda do território é falta de afeto, trazendo tristeza profunda, atingindo nosso espírito. O sentimento da violação do território é como o de uma mãe que perde seu filho. É desperdício de vida. É perda do respeito e da cultura, é uma desonra aos nossos ancestrais, que foram responsáveis pela criação de tudo. É desrespeito aos que morreram pela terra. É a perda do sagrado e do sentido da vida. (…) Assim, tudo o que tem sido defendido e realizado pelo atual governo contraria frontalmente essa forma de proteção e cuidado com a Mãe Terra, aniquilando os direitos que, com muita luta, nós conquistamos. A não demarcação de terras indígenas, o incentivo à liberação da mineração e do arrendamento, a tentativa de flexibilização do licenciamento ambiental, o financiamento do armamento no campo, os desmontes das políticas indigenista e ambiental, demonstram isso.
REFERÊNCIAS
BANIWA, Gersem dos Santos Luciano. O índio brasileiro: o que você precisa saber sobre os povos indígenas no Brasil hoje. Coleção educação para todos. Unesco. Ministério da Educação, Brasília, novembro de 2006.
BRIGHENTI, Clovis Antonio. Povos Indígenas em Santa Catarina. Santa Catarina, 2013.
CIMI, Terras indígenas. Acessado em 18 de maio de 2019: < https://cimi.org.br/terras-indigenas/
CIMI, Marcha das Mulheres Indigenas divulga documento final: “lutar pelos nossos territorios e lutar pelo nosso direito a vida”. Acessado em 06 de janeiro de 2020 < https://cimi.org.br/2019/08/marcha-mulheres-indigenas-documento-final-lutar-pelos-nossos-territorios-lutar-pelo-nosso-direito-vida/ >
CRISPIM, Paola Vaz Franco. Comunidades quilombolas na região sul de Santa Catarina: Resistências e lutas. Trabalho de Conclusão de Curso de Licenciatura em história, UNESC, 2017.
KRENAK, Ailton. Guerras do Brasil. Direção Luiz Bolognesi. Produção: Netflix. Série 1o temporada, 1o episódio (26 min.), 2019a.
KRENAK, Ailton. Ideias para adiar o fim do mundo. Editora Companhia das Letras. São Paulo, 2019b.
KRENAK, Ailton. O amanhã não esta a venda. Editora Companhia das Letras. 2020
MUNDURUKU, Daniel. O caráter educativo do movimento indígena brasileiro (1970-1990), editora: Paulinas. São Paulo, 2012.
PADILHA, Scanavaca Raiza. Caminhos para Guaranizar a Educação em Ciências: Envolvimento e luta na terra indígena do Morro dos Cavalos. Dissertação (Mestrado em Educação Científica e Tecnológica), Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2020.
SEYFERTH, Giralda. Imigração e etnicidade do Vale do Itajaí (SC). Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – USP, São Paulo, 2005.
VALENTE, Rubens. Os fuzis e as flechas: História de sangue e resistência indígena na ditadura. Coleção Arquivo da Repressão no Brasil. Companhia das Letras. São Paulo, 2017.






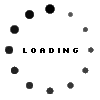



Posted on 09/01/2024 by CABN
0